dentesguardados #29 Perguntas
Em meados de janeiro, recebi por e-mail seis perguntas que seriam publicadas na forma de entrevista em um site muito bacana sobre literatura, clima e capitalismo, ligado a uma universidade federal. As perguntas eram muito boas e tratavam do meu último livro, O deus das avencas (2021). Sempre fico feliz com oportunidades de falar desse livro, que foi lançando em plena pandemia. Essas respostas já estavam rascunhadas quando me disseram que a entrevista estava suspensa. Alguns meses se passaram, reli as respostas dia desses, e achei que seria uma pena elas nunca serem publicadas. Dei uns retoques e ei-las abaixo, com as perguntas suprimidas.
(...)?
Comecei a pesquisar mais sobre ecologia, crise climática e tecnologia quando estava escrevendo meu romance Meia-noite e vinte, em 2015 (o livro foi publicado em 2016). Ali a minha intenção principal era capturar as ansiedades da minha geração de pré-millenials diante das transformações do mundo a partir da virada do milênio e da queda das Torres Gêmeas. Formulei a pergunta subjacente do romance nos seguintes termos: o que mudou na percepção de apocalipse iminente para essa geração entre o fim da década de 1990 e o mundo após a crise econômica de 2008, as jornadas de junho de 2013 e as consequências cada vez mais devastadoras das crises ecológicas? Eu lembrava que, na minha juventude, falar em fim do mundo era pensar nas catástrofes meio aleatórias dos filmes apocalípticos de Hollywood ou no Bug do Milênio, eventos pontuais que destruíam um mundo em instantes e davam origem imediata a um mundo pós-apocalíptico. No entanto, quinze anos depois estávamos experimentando o fim do mundo como um processo longo, de muitas camadas e várias crises interligadas, que já estava em curso e ainda estaria por muito tempo: o aquecimento global, a crise do capitalismo, a precarização do trabalho, a acentuação da desigualdade de riqueza, as extinções em massa et cetera. Os protagonistas do romance se veem de repente desnorteados com essas novas percepções, com a destruição das expectativas relativamente otimistas gestadas no fim do século 20 para uma classe média que desfrutava de uma certa estabilidade, fé no futuro, liberdade individual. O romance é sobre a detonação dessa estabilidade e o confronto abrupto com a incerteza em torno do presente e do futuro, um sentimento apocalíptico diferente, mais difuso e distribuído, porém exponencialmente mais real e concreto. O contexto inaugural da trama é a onda de calor que afetou Porto Alegre em janeiro de 2014, que para mim teve efeito de “um-antes-e-um-depois” na assimilação de que vivemos um novo regime climático. Um dos protagonistas foi assassinado em um assalto quando a trama começa, e partir desse acontecimento os outros três se reencontram e confrontam as experiência do passado, que giravam muito em torno de um fanzine eletrônico e uma cena cultural inspirada na Porto Alegre da virada do milênio. Meia-noite e vinte é um livro fraturado, irregular em vários sentidos, escrito em um estado de perplexidade e alguma raiva, mas que traz um instantâneo dessa mudança de paradigma, e nesse sentido, ao reler passagens do texto hoje em dia, acredito que ele expressa alguma coisa importante sobre aquele momento, pelo prisma da experiência íntima de seus três narradores. Depois de publicar esse romance, meus interesses e pesquisas seguiram alguns caminhos abertos anteriormente e se embrenharam por temas como cibernética, IA, biologia, espécies companheiras. E disso foram surgindo as ideias para as histórias que estariam em O deus das avencas.
(...)?
Não sou bom em fazer previsões, então não imagino histórias apostando em como o futuro será ou não será. Mas às vezes a minha compreensão de alguma coisa gera uma reação de aderência ou repulsa forte a ponto de formar uma convicção, e a fabulação se apresenta como o recurso mais à mão para expressar o que penso e tentar contribuir de alguma maneira. Se a minha ficção pode ajudar em algum sentido prático é em termos de sensibilizar para a ação no presente, ainda que exista um pessimismo real quando pensamos em projeções de futuro. Um exemplo de repulsa é em relação à ideia transumanista de que seria possível digitilizar uma mente humana e transferi-la para corpos artificiais. Estou convicto de que se trata de um devaneio que vai direcionar recursos e pesquisas tecnológicas para caminhos contraprodutivos ou destrutivos para a humanidade. Tóquio foi toda pensada em torno dessa repulsa. Dela surgiu a ideia de um grupo de apoio psicológico para tutores de artefatos sintéticos contendo transcrições digitais de mentes humanas, tendo como elemento mais importante o mau funcionamento e a angústia existencial gerados pela tentativa de desenvolver essas tecnologias. Ao redor disso elaborei uma trama que fala também de colapso ecológico, bilionários pós-humanistas, fazendas urbanas e neuroses entre mãe e filho, mas tudo emanou dessa bronca contra o projeto transumanista. A situação presente em Tóquio pode levar um leitor a se colocar mais criticamente diante do tipo de linguagem que se usa para falar da IA e das máquinas mesmo em espaços de discurso supostamente esclarecidos, por exemplo. Então eu não diria que a novela “acende um alerta”, mas ela traz um posicionamento que vale a pena considerar, tratado de um modo que somente a ficção permite. Um exemplo de aderência é a minha convicção de que futuros melhores dependem do ideário ecofeminista e de uma perspectiva pós-antropocêntrica. A luta feminista começa na justiça de gênero mas abrange a salvação planetária. A autonomia reprodutiva das mulheres tem vastas implicações ecológicas e econômicas sem as quais estou convencido de que uma revolução ecológica ampla será impossível. O frase de Donna Haraway, “faça parentes em vez de bebês” (make kin not babies) é uma das minhas expressões favoritas disso, entre muitas. Quanto ao pós-antropocentrismo, bem, nossos últimos espécimes à beira da extinção serão lembrados à força de nossa interdependência horizontal com todas as formas de vida, caso isso não se torne óbvio e urgente para a nossa geração e as vindouras. Essas aderências foram importantes para moldar Bugônia. Nessas duas novelas, ideias como essas insuflam a trama mas não são tratadas como teses a serem demonstradas e defendidas, pois isso não combina bem com a ficção. O que espero que sejam é o que diz aquele antigo e muito honrado clichê: Boas histórias que fazem pensar.
(...)?
É de fato quase impossível dar conta de uma fatia ampla dos problemas do aquecimento global e das catástrofes climáticas em um texto, embora autores de ficção científica como Kim Stanley Robinson tentem e consigam chegar bastante perto. Mais adequado é isolar um ou alguns pontos do problema real e embuti-los em uma situação ficcional condensada e simbólica: o grupo de autoajuda para tutores de transumanos fracassados em Tóquio, a comunidade simbiótica pós-apocalíptica com humanos e abelhas em Bugônia. Por isso o formato da coleção de novelas me pareceu apropriado: são três lentes e três filtros apontados para facetas escolhidas desse mundo de crises interligadas, que em conjunto podem apresentar um panorama mais rico. O deus das avencas começou nas minhas notas como um livro de contos que teria seis ou sete histórias, mas no processo de escrita apenas três delas criaram raízes fortes e cresceram. Durante algum tempo eu não sabia que extensão teriam, então tratei de escrever para depois decidir como poderiam ser publicadas. Quando estava perto de terminar, gostei de pensar que elas formavam esse conjunto de três histórias independentes, separadas por grandes saltos de tempo em direção a um futuro especulativo, mas que no fundo poderiam fazer parte de um mesmo mundo, uma mesma linha do tempo. Não há contradições entre elas, mas há algumas continuidades, apesar de eu ter pensado em uma de cada vez. Então, se o leitor decide estabelecer conexões entre uma e outra, é um pouco como se pensasse nas conexões que podem haver entre o smartphone vibrando em seu bolso e o aquecimento dos oceanos. Eu aprecio essa discussão de que a literatura não consegue dar conta da extensão geológica, meteorológica e temporal dos eventos que impactam o mundo contemporâneo, uma bola já famosamente erguida pelo Amitav Gosh em O grande desatino, onde reflete sobre os limites do romance (realista, mas não apenas) para lidar com a mudança climática. Mas a literatura precisa dar conta? Quando ela efetivamente deu conta? Acho que o barato, e o impulso e o propósito de escolher a ficção e não, digamos, a não ficção ou a pesquisa científica para tratar de um assunto é justamente a liberdade para tratar dele de maneira incompleta, caprichosa, provocadora, arriscada, ou mesmo fútil, irresponsável, ofensiva. Então essa discussão também me soa um pouco viciada, às vezes, por uma adesão discutível e quase sempre inconsciente a uma ideia de romance como panorama realista, sociológico e o mais completo possível de uma paleta de temas. Eu mesmo incorri nisso quando comecei a pensar nesse assunto e escrevi um ensaio chamado Ondas catastróficas. Mas a conclusão daquele texto mostra, acho, como no fundo eu desconfiava um pouco de certas premissas do debate, e hoje acredito ver isso mais claramente.
(...)?
O futuro imaginado em Tóquio tem entre suas inspirações um livro chamado Food or War, de Julian Cribb, que relaciona a falta de alimentos com as guerras ao longo da história e imagina como poderemos alimentar a população global no novo regime climático. A ideia de a comida precisar ser produzida em fazendas urbanas dentro de megalópoles cada vez maiores, enquanto a maior parte das terras cultiváveis do planeta entra em colapso, partiu do livro de Cribb e influenciou essa São Paulo que imagino, superpopulosa e separada das terras ao redor por um muro, quente a ponto da circulação depender de túneis refrigerados, provida de energia intermitente. Outras influências foram a pandemia e a ascensão da extrema direita no Brasil e no mundo. Então esta é também uma São Paulo segregacionista e vigiada, que existe em um equilíbrio possível dentro das condições existentes, mas há várias dicas na história de que há um governo autoritário no controle das coisas. A isso se soma a revelação, nas páginas finais da novela, de que do outro lado dos muros existe uma paisagem devastada pelo calor e pelos eventos climáticos extremos, na qual vive toda uma outra população em estado de miséria extrema, adaptada à sua maneira, mas em constante luta por sobrevivência. Fiz a escolha proposital de não desenvolver esse outro lado do muro, para que a existência dele eclodisse no final como um constraste chocante com a trama principal, na qual fazendas de permacultura urbana e quimeras cibernéticas ocupam o palco. Entendemos que o protagonisa da história, um homem ensimesmado mas esclarecido, sempre bem intencionado, nunca pensa naquele outro mundo lá fora, exceto quando os acontecimentos finais da novela o impelem a pisar naquele território em um impulso que pode ser quase suicida, mas é movido sobretudo por uma curiosidade súbita por esse outro modo de vida. Ele passa incólume por esse testemunho e retorna à cidade como tantos de nós quando buscamos, de boa-fé, conhecer a realidade de populações excluídas ou ecossistemas ameaçados, para em seguida retornarmos aos nossos modos de vida usuais. As escolhas que fiz nesse sentido, então, buscam um efeito narrativo específico e acenam a uma reflexão ética. Esses “vultos humanos” que o narrador avista de longe podem não ter proeminância na trama, mas o papel que desempenham e o modo como aparecem são importantes para as ideias abordadas na novela.
(...)?
Em Bugônia temos uma sociedade pós-capitalista, sim, mas nesse caso o foco está quase todo em uma comunidade muito pequena, que se autodenomina Organismo e habita o alto de um morro, o Topo. A humanidade foi quase toda dizimada por uma superbactéria, mas restam essas comundidades autônomas, gangues nômades e também cidades grandes que ainda existem atrás dos muros. Na verdade, é possível imaginar que megalópoles como a São Paulo de Tóquio ainda existem nesse futuro mais longínquo, os personagens inclusive as mencionam algumas vezes. Mas a brincadeira nesse texto é bem diferente: o Organismo não é um fenômeno abrangente, é um caso isolado. Um caso isolado de um grupo de pessoas que se refugiaram em um lugar remoto e ao longo do tempo estabeleceram relações de convivência simbiótica com outras espécies. A simbiose é uma associação entre duas espécies, na qual ambas se beneficiam. Em Bugônia, a partir de um artigo que li sobre abelhas-abutres que consomem carne morta, imaginei uma simbiose entre humanos e abelhas, na qual os humanos fornecem os cadáveres de seus mortos para o consumo das abelhas e estas produzem um mel específico, chamado necromel, que imuniza os humanos contra a “doença do sangue”. Existem várias outras formas de colaboração com outras espécies no Topo. O que existe aí não é animismo, como tu sugere, pois as relações não envolvem nenhuma dimensão espiritual. Todos são animais, inclusive os humanos, e existe uma colaboração entre os modos de existir. A inspiração está na teoria da endossimbiose de Lynn Margulis e no conceito de espécies companheiras da Donna Haraway. O estilo do texto, por sua vez, busca um tom árcade, uma textura pastoril na linguagem e nas descrições (os poemas de Virgílio nos quais se encontra um relato do ritual chamado bugônia, peça central da trama, inspiraram um pouco esse tom), mas sem nunca deixar o leitor esquecer que estamos no futuro e que há outras realidades muito distintas fora dos limites do Organismo. A mais radical delas surge quando, lá pelas tantas, um objeto cai do céu, espantando as abelhas e abalando o equilíbrio da comunidade multi-espécies. Os humanos entram em conflito entre si, visões de mundo se polarizam, a minúscula sociedade entra em crise. E só Chama, adolescente que narra a história, será capaz de liderar essas pessoas por um novo caminho, que vai envolver algumas conciliações e alguns confrontos, mas de todo modo requer uma capacidade de transformação rápida. Uma das ideias aí é que o mundo pode se transformar o quanto quiser, mas há certas dinâmicas cíclicas na história que sempre se repetirão, que estamos vendo se repetir no mundo atual. O avanço do conhecimento e da solidariedade topará certo ou tarde com repuxo da ignorância, da intolerância e do medo. Acontece na escala do Organismo e pode acontecer em escala planetária. Sobre a parte final e principal da pergunta, se escritores deveriam apostar mais no realismo alarmista em ou nas mitologias propositivas e esperançosas, cada um que siga seu coração. Eu desconfio de qualquer afirmação a respeito do que escritores devem ou não devem fazer. São proferidas por narcisistas e no máximo rendem uma boa frase de efeito.
(...)?
Não há dúvida de que os escritores brasileiros vão incorporar cada vez mais as mudanças climáticas em suas histórias, mas não é porque se organizam para isso, ou que haja uma decisão consciente de enfrentar essa ou aquela questão. Escritores, em sua esmagadora maioria, são vetores dos debates sociais e das condições de vida que impactam a si mesmos e a todo mundo em seu redor. Quando vivemos em uma realidade na qual uma pessoa bem informada não pode pensar no ato de beber uma xícara de café sem levar em conta aquecimento global, eventos climáticos extremos, capitalismo, cadeias de produção e distribuição de riqueza, teremos uma literatura em que essas preocupações vão inevitavelmente se manifestar. Mas não entendo que se trata de um projeto. É uma forma particular de reagir a condições de vida existentes. Eu gostaria de afirmar que uma literatura engajada propositalmente com esses temas pode ajudar a disseminar a consciência a respeito da urgência da crise climática e da responsabilidade que temos, dos riscos existenciais envolvidos para nós que estamos vivos, mas sobretudo para as próximas gerações. Mas se tudo que já foi escrito e dito não nos mobiliza, se os temporais destruidores, a enchente de maio e as ondas de calor não nos mobilizam, fico em dúvida se a literatura pode ter um papel conscientizador significativo. De qualquer modo, o papel principal da literatura não é ensinar e conscientizar, e sim sensibilizar, ampliar a gama de significados e sensações que podemos experimentar e levar em conta. É o valor estético, aquele que não pode ser quantificado, colocado na balança das coisas úteis. Vamos escolhendo nossos assuntos para escrever, querendo participar dos debates que importam, e não há nada de errado nisso, é difícil partir de outra coisa. Mas a escrita necessária, não importa o tema, é a que tem a capacidade de deixar o leitor um pouco mais vivo do que antes. Mais do que se transformar radicalmente para dar conta de um mundo assolado pela mudança climática, eu espero que a literatura siga existindo para fazer borbulhar o campo sensível, para permitir que nos comuniquemos também sobre o que é inexistente, atemporal, incompreensível.//
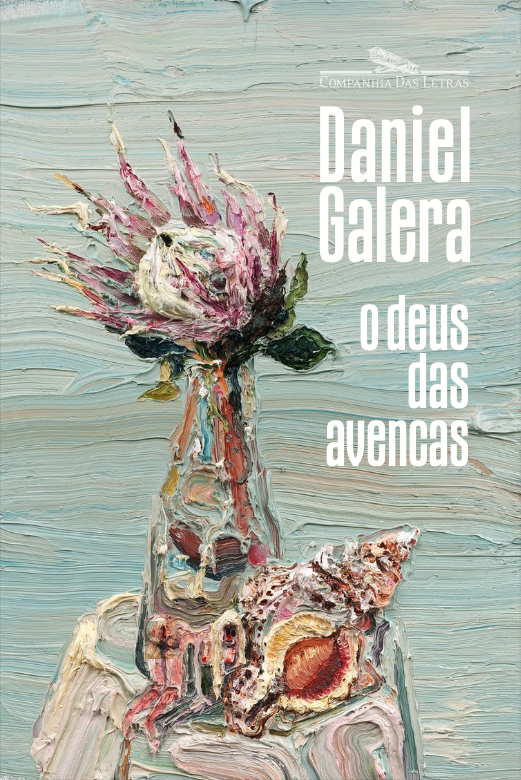
*
Leituras críticas
Atualmente não conto com o Instagram pra ser um empreendedor de mim mesmo, então deixo um lembrete aqui: tenho me dedicado muito a fazer leituras críticas de manuscritos de ficção e não ficção, e esse tem sido um trabalho prazeroso e recompensador pra mim e, acredito poder afirmar, pras autoras e autores com quem trabalho. Se terminou ou está trabalhando em um livro e gostaria de ter uma espécie de edição individual, me chama no contato@danielgalera.info e vamos conversar :)
***